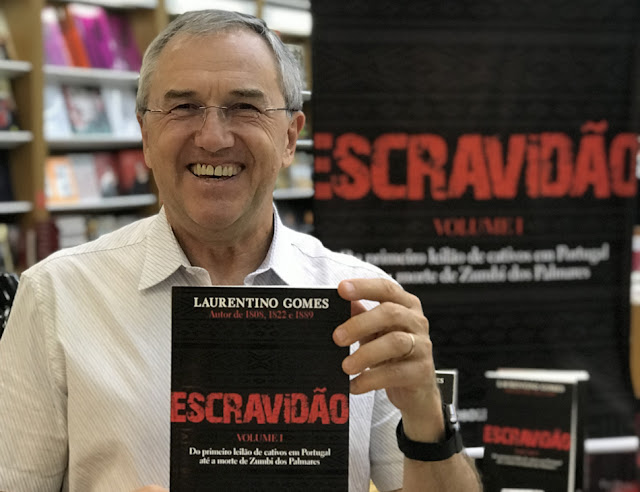Confúcio,
quando questionado se existe uma única palavra que possa guiar a vida de alguém,
respondeu: “Não deveria ser reciprocidade? O que você não deseja para si
mesmo, não faça aos outros” (pág. 354)
Ao receber o livro de Jonathan
Haidt – “A Mente Moralista” – Editora Alta Books, 2020 – 448 págs - pensei eu:
que bom momento para ler algo assim. Isso, mesmo sem ter me debruçado ainda em
suas palavras ou análise, somente pautado pelo subtítulo então presente – Porque
as pessoas boas são segregadas por política e religião. Aos que estão no meu
convívio sabem que, já há algum tempo, sou um grande crítico desses tempos de polarização
desmesurada, da perda da capacidade de diálogo entre as pessoas que possuem
visões distintas sobre diversos aspectos da vida. Minha esperança estava então
centrada, ao iniciar meu mergulho na visão do autor, ganhar argumentos que
pudessem consolidar o meu debate pela retomada da capacidade do ser humano de
conviver, ou ao menos de tolerar, (com) o lado contrário.

“Esse
livro explicou por que as pessoas se segregam por causa de política e religião.
(...) a explicação é que nossas mentes foram projetadas para a justiça de
grupo. Somos criaturas profundamente intuitivas, cujos sentimentos instigam
nosso raciocínio estratégico. Isso dificulta – mas não impossibilita – a
conexão com aqueles que vivem em outras matrizes, que muitas vezes são
construídas em diferentes configurações dos alicerces morais disponíveis”
(grifo nosso). (pág. 340)

Posso dizer que minha
jornada, lendo o raciocínio construído por Haidt, foi bem-sucedida. Mas antes de
levar vocês a um extrato (ou diversos) do que ele me apresentou preciso antes qualificá-lo.
Tal como se encontra na orelha do livro, Jonathan Haidt “é professor (...) de
Liderança Ética da Stern School of Business da Universidade de Nova York.
Obteve seu doutorado em psicologia social pela Universidade da Pensilvânia em
1992 e depois lecionou na Universidade da Virgínia até 2011”. Mas essa
apresentação protocolar, para o meu anseio maior, ainda não era suficiente. E eu
obtive elementos que me interessaram durante a leitura, os quais basicamente
foram 2 centrais: por opção política, ele se considera um eleitor do Partido
Democrata, portanto mais voltado ao que convencionamos como esquerda. E ele
teve uma experiência que o propiciou compreender uma outra visão de mundo,
diferente do americano médio – inclusive dos próprios democratas – ao fazer
parte de sua pesquisa numa sociedade com valores completamente distintos – na Índia.
Esses dois elementos
acompanham a todo momento o texto, uma vez que ele, apesar de sua visão
política, chegou à conclusão que àqueles à esquerda do espectro político, em
que pese o discurso baseado em pautas do que convencionamos chamar de “politicamente
correto”, têm muito mais dificuldades em dialogar do que o grupo estabelecido à
direita, perdendo assim ótimas oportunidades para bem compreender boas ideias e
projetos, se deixando levar, efetivamente, pelos sentimentos e não usando o
raciocínio lógico e prático necessário muitas vezes para desenvolver uma boa
administração. O que é extremamente interessante, repito, dado ele ser
claramente um votante do Partido Democrata.
“Eu
havia escapado de minha mentalidade partidária anterior (rejeite primeiro, faça
perguntas retóricas depois) e comecei a pensar em políticas liberais e
conservadoras como manifestações de visões profundamente conflitantes, mas
igualmente sinceras, de uma boa sociedade. Era bom estar livre da raiva
partidária. E uma vez que não estava mais com raiva, não estava comprometido a
chegar à conclusão que a raiva moralista exige: nós estamos certos, eles estão
errados. Pude explorar novas matrizes morais, cada uma apoiada por suas
próprias tradições intelectuais. Parecia um tipo de despertar” (grifo
nosso – pág. 115)
Sendo um acadêmico,
devotado à pesquisa sobre a psicologia social, ele se viu assim aberto a ouvir
as diferentes perspectivas. Não foi obviamente algo agradável, pois no relato
de seus experimentos, baseados em entrevistas, ouviu de tudo um pouco, colocações
muitas vezes desagradáveis e extremistas, de ambos os lados. Mas era
importante, para testar suas hipóteses, passar por esse tipo de situação. Ele
esmiuça, assim, cada um desses aspectos durante o texto, ilustrando e trazendo
vivacidade ao leitor, que passa a incorporar aquela experiência como se assim
tivesse participado dela, fazendo-nos refletir sobre nossos próprios (pre)conceitos.
Ele dividiu as pessoas basicamente
em três grupos – liberais, como sendo aqueles mais à esquerda (eleitores do
Partido Democrata, em sua maioria); conservadores, mais à direita (eleitores do
Partido Republicano); e libertários, defensores máximos da liberdade do indivíduo
em relação ao Governo. Seriam, grosso modo, a direita mais radical, na qual não
é aceito nenhum tipo de intervenção governamental em suas vidas. Estes seriam,
então, os grupos que seriam pauta de sua análise a partir da identificação dos
princípios morais que seriam apresentados em sua argumentação teórica.
Em determinado momento
ele chega à conclusão que “cinco bons candidatos a receptores do paladar da
mente moralista são cuidado, justiça, lealdade, autoridade e pureza”.
(pág. 135) – grifo nosso. Esses cinco elementos, serão, portanto, aqueles que
serão observados em seu grau de importância para os diferentes grupos, foco de
sua pesquisa. Mas até alcançar essa percepção, o início do livro retrata sua
caminhada. Ou seja, somos testemunhas da construção de seu raciocínio. Um dos seus
primeiros achados é a supremacia do sentimento sobre o raciocínio lógico. Ou
seja, por mais que queiramos tomar uma decisão isenta de quaisquer paixões,
isso é impossível. É inerente ao ser humano ser guiado por estas últimas,
influenciando diretamente sua visão objetiva de mundo.
No início do livro ele
aponta para algo no que acredita deveria ser algo a pautar nossas ações morais:
“(...) a moralidade envolve tratar bem os indivíduos” (pág. 11). Ele
busca ainda avançar ao indicar teóricos clássicos que influenciaram sua
análise, tal como: “(...) David Hume (...) escreveu em 1739 que ‘a razão é, e
só pode ser, escrava das paixões; e só pode pretender ao papel de servir e
obedecer a elas’” (pág. 26). Porém, ele se viu diante de um dilema ético: como
seria a definição e o uso da verdade para as pessoas? Ora, o que aparentemente
era verdadeiro para uns, não era para outros, e isso está diretamente vinculado
às matrizes morais que elas “obedeceriam” ou buscariam.
Sob a lógica do autor, “é
melhor ser do que parecer virtuoso” (pág. 77). Porém, “não teria sido mais
adaptativo para nossos ancestrais descobrir a verdade, a verdadeira
verdade sobre quem faz o quê e por que, em vez de usar todo esse poder cerebral
apenas para encontrar evidências em apoio ao que eles queriam acreditar?
Isso depende do que você acha mais importante para a sobrevivência dos nossos
ancestrais: verdade ou reputação” (pág. 75) – grifo nosso. O capital reputacional,
dessa forma, é o que nos guia no dia a dia. Não queremos nos dar ao trabalho de
avaliar as opções de maneira objetiva, mas sim de balizar e procurar argumentos
que validem, ex ante, no que acreditamos. Não damos, assim, oportunidade
para nós mesmos em ouvir algo que seja distinto de nossos próprios pré-conceitos.
“Os cientistas cognitivos franceses Hugo Mercier e Dan Sperber (...) dizem, ‘argumentadores
habilidosos... não estão atrás da verdade, mas de argumentos que sustentem seus
pontos de vista’.” (pág. 95). Ou seja, infelizmente “nosso pensamento moral é
muito mais parecido com um político que angaria votos do que com um cientista
que busca a verdade”. (págs. 81-82).
Outro ponto teórico
relevante para o autor é a capacidade ação do ser humano quando inserido num
grupo – e em como isso, naturalmente, baliza a consolidação de princípios
morais. Lembro aqui que o campo de pesquisa do autor é a chamada psicologia
social. Assim sendo, abordar como tal enxerga a dinâmica dos indivíduos inseridos
num grupo é relevante para chegar a conclusões em quaisquer estudos nessa área
acadêmica. Em que pese o autor ter ponderado, em alguns momentos, que essa abordagem
“grupal”, digamos, ter sido relegada em determinado momento da História a um
segundo plano junto aos seus pares, tendo sido resgatada somente mais recentemente.
Sobre este aspecto
ressalto os seguintes achados:
·
“Quando os grupos competem, o grupo coeso
e cooperativo geralmente vence”. (pág. 207);
·
“(...) a felicidade vem do meio. Ela
resulta do relacionamento correto entre nós e os outros, nós e nosso trabalho,
e nós e algo maior”. (pág. 261);
·
“Os sistemas morais são conjuntos
interligados de valores, virtudes, normas, práticas, identidades, instituições,
tecnologias e mecanismos psicológicos evoluídos que trabalham juntos para
suprimir ou regular o interesse próprio e possibilitar sociedades
cooperativas”. (pág. 289); e
·
“Capital social refere-se a um tipo de
capital que os economistas haviam ignorado completamente: os laços sociais
entre os indivíduos e as normas de reciprocidade e confiabilidade que surgem
desses laços”. (pág. 311).
Ora, se maior coesão
acaba favorecendo um determinado grupo, para que este saia vitorioso de um embate,
é natural que os laços que unem seus membros sejam fortalecidos. Dessa forma, a
lógica de atuação em grupo retroalimenta uma única visão, dificultando que seus
membros possam ter um olhar aberto ao contraditório. Nessa fase do livro,
portanto, o autor sedimenta cada vez mais a sua conclusão final. Conclusão esta
voltada à pergunta base, a qual voltamos a salientar – “Por que pessoas boas
são segregadas por política e religião?”.
O papel da religião
também é abordado pelo autor, porém como mais um elemento simbólico da capacidade
de agregação em torno de teses comuns. Haidt não discute a fé em seu livro. Não
é esse o seu escopo. Mas sim a religião como fenômeno social. Nas palavras
dele:
“Ao
longo deste livro, argumentei que as sociedades humanas em larga escala são
conquistas quase milagrosas. Tentei mostrar como nossa complicada psicologia
moral coevoluiu com nossas religiões e outras invenções culturais (como tribos
e agricultura) para nos levar aonde estamos hoje. Argumentei que somos produtos
da seleção multinível, incluindo a seleção de grupo, e que nosso ‘altruísmo
paroquial’ faz parte do que nos torna grandes jogadores de equipe. Precisamos
de grupos, amamos grupos e desenvolvemos nossas virtudes em grupos, mesmo
que eles necessariamente excluam os não membros. Se eliminarmos todos os grupos
e dissolvermos toda a estrutura interna, destruímos seu capital moral” (grifo
nosso). (pág. 328).
O capital moral citado
acima é definido por ele como o “grau em que uma comunidade possui conjuntos
interligados de valores, virtudes, normas práticas, identidades, instituições e
tecnologias que se combinam bem com os mecanismos psicológicos evoluídos e,
assim, permitem à comunidade suprimir ou regular o egoísmo e possibilitar a
cooperação” (pág. 313).
Um Olhar sobre Direita e
Esquerda
Já no terço final do
livro, estabelecidas as bases de sua argumentação, o autor se encaminha para
algo espinhoso, que são suas visões após toda a consolidação dos elementos que
ele identificou com suas pesquisas: como qualificar o posicionamento de ambos
os espectros políticos convencionais, à luz das dificuldades por eles
apresentadas em enxergar o outro lado? Abaixo transcrevo suas principais percepções:
·
“Todo mundo se preocupa com justiça, mas
existem dois tipos principais. Para a esquerda, a justiça implica igualdade,
mas, para a direita, ela é proporcionalidade – as pessoas devem ser
recompensadas proporcionalmente pelo que contribuem, mesmo que isso garanta
resultados desiguais”. (pág. 147;
·
“Quando alguns membros de um grupo contribuem
muito mais do que os outros – ou ainda pior, quando alguns não contribuem com
nada -, a maioria dos adultos não quer ver os benefícios distribuídos
igualmente”. (pág. 195);
·
“(...) No entanto, se estiver tentando
mudar uma organização ou uma sociedade e não considerar os efeitos de suas
mudanças no capital moral, está procurando encrenca. Acredito que esse seja o
ponto cego fundamental da esquerda. Ele explica por que as reformas
liberais com frequência saem pela culatra, e por que as revoluções comunistas geralmente
acabam em despotismo. É a razão pela qual
acredito que o liberalismo – que fez muito para trazer liberdade e igualdade de
oportunidades – não é suficiente como filosofia de governo. Tende a exagerar,
mudar as coisas demais com rapidez excessiva e reduzir inadvertidamente o
estoque de capital moral. Por outro lado, embora os conservadores façam um
trabalho melhor em conservar o capital moral, geralmente deixam de perceber
certas classes de vítimas, não limitam as predações de certos interesses
poderosos e não veem a necessidade de mudar ou atualizar as instituições com o
passar do tempo” (págs. 313-314);
·
“Penso que os liberais estão certos quando
afirmam que uma das principais funções do governo é defender o interesse
público contra as corporações e sua tendência a distorcer os mercados e impor
externalidades a outras pessoas, principalmente aos menos capazes de se
defender judicialmente (como pobres, imigrantes ou animais de fazenda).
Mercados eficientes exigem regulamentação governamental. Mas, às vezes, os
liberais vão longe demais – na verdade, em geral são automaticamente
antinegócios, o que é um erro do ponto de vista utilitarista. Mas é saudável para
uma nação estar em um constante cabo de guerra, um debate contínuo entre yin e
yang sobre como e quando limitar e regular o comportamento corporativo”. (pág. 319);
·
“As pessoas não cooperam bem em grandes
grupos quando percebem que muitos outros são parasitas sociais. Portanto,
nações comunistas ou fortemente socialistas frequentemente recorrem à crescente
utilização de ameaças e força para obrigar a cooperação. Os planos de cinco
anos raramente funcionam tão bem quanto a mão invisível”. (pág. 391); e
·
“Acredito que os libertários estejam
certos em muitos pontos (...). / Minha pequena lista de pontos adicionais: (1)
o poder corrompe; portanto devemos ter cuidado em concentrar o poder em
qualquer mão, incluindo as do governo; (2) liberdade ordenada é a melhor
receita para florescer nas democracias ocidentais; (3) os Estados ‘babás’ e
cuidados ‘do berço ao túmulo’ infantilizam as pessoas e as fazem se comportar
com menos responsabilidade, exigindo ainda mais proteção do governo”. (págs.
323 e 391).
Aqui cabe uma ponderação,
ao olhar os pontos por ele elencados. Não podemos nunca nos esquecer de que ele
está imerso na cultura norte-americana. E esses aspectos por ele identificados
são muito claros da filosofia dos Estados Unidos como povo. Não vai aqui um questionamento
se é bom ou ruim, mas sim que é interessante contextualizar de como isso
influencia seu olhar em termos de sociedade, segundo os valores cultuados ao
norte do Rio Grande.
Conclusão
Ao final de tudo, o livro
é um grande achado. Nos faz refletir sobre quais elementos em nosso dia a dia
influenciam nossa tomada de decisão e nossa visão de mundo. Porém, para mim a
maior mensagem é a respeito da nossa (falta de) capacidade de nos desapegarmos de
tudo que está pré-estabelecido em nossas mentes – seja por influência social,
grupal, religiosa e até mesmo genética (preferi não enfatizar muito este ponto
em minha resenha, mas ele existe e é abordado pelo autor no livro, com achados
surpreendentes) – para ampliar nossa capacidade de escuta e diálogo. Hoje em
dia, as pessoas falam e não querem ouvir. A humanidade caminha rumo à barbárie,
a meu ver, se seguirmos nessa toada. Ou, como Haidt ressaltou em seu livro, de
maneira enfática, como verão abaixo, por pelo menos 3 vezes – a moralidade
agrega e cega. A pergunta que fica é: como podemos sair deste ciclo vicioso e
nos tornarmos pessoas melhores?
·
“Matrizes morais unem as pessoas e as
cegam à coerência, ou até mesmo à existência, de outras matrizes. Dificultam
que as pessoas considerem a possibilidade de que realmente exista mais de uma forma
de verdade moral ou mais de uma estrutura válida para julgar as pessoas ou
administrar uma sociedade”. (pág. 117);
·
“A moralidade agrega e cega. Isso não é
apenas algo que acontece com as pessoas do outro lado. Todos somos sugados para
comunidades morais tribais. Nós nos agrupamos em torno de valores sagrados e,
em seguida, compartilhamos argumentos post hoc sobre porque estamos tão
certos e ‘eles’ estão tão errados. Achamos que o outro lado é cego à verdade, à
razão, à ciência e ao senso comum, mas na verdade todo mundo fica cego ao falar
sobre seus objetos sagrados”. (pág. 333); e
·
“A moralidade agrega e cega. Ela nos une a
equipes ideológicas que lutam entre si como se o destino do mundo dependesse do
nosso lado vencer cada batalha. Isso nos cega ao fato de que cada equipe é
composta de pessoas boas que têm algo importante a dizer”. (pág. 335).